quinta-feira, 24 de dezembro de 2009
Uma figura de linguagem ou uma figura de pensamento? - Parte 2
domingo, 13 de dezembro de 2009
Platão (Republica III, 401 C)
terça-feira, 1 de dezembro de 2009
Uma breve introdução à "doutrina tradicional da arte"
Para já ficamos com trechos de mais um texto que será incluído na revista. Trata-se de um trabalho de Timothy Scott, originalmente publicado na publicação periódica Vincit Omnia Veritas 1.2, 2005, com o título “ A brief introduction to the “Traditional Doctrine of Art”.

A primeira coisa que nos impressiona numa obra-prima de arte tradicional é a inteligência: uma inteligência surpreendente, quer pela sua complexidade, quer pelo ser poder de síntese; uma inteligência que envolve, penetra e eleva. (Marco Pallis)
A arte tradicional deriva de uma criatividade que combina inspiração celeste com engenho étnico, de um modo que se assemelha a uma ciência dotada de regras e não por meio de improvisação. (Frithjof Schuon)
A arte sagrada é criada como um veículo para presenças espirituais, é criada simultaneamente para Deus, para os anjos e para o homem; a arte profana, por outro lado, existe apenas para o homem e, por conseguinte, atraiçoa-o. (Frithjof Schuon)
Quando se analisa a doutrina ou o entendimento tradicional da arte, é fundamental começar por dissipar qualquer confusão entre o termo “tradicional” e o simples “conservadorismo,” ou com o próprio termo “clássico”, em qualquer sentido escolástico. Aquilo que temos em mente não é um período classificável da “história da arte,” tal como possa ser interpretado nos meios académicos. A Tradição a que nos referimos é, em primeiro lugar, a sabedoria primordial, a Verdade imutável e sem forma, a essência supra-formal que enforma a criação; em segundo lugar, é o corpo formal da Verdade sob uma determinada aparência mitológica ou religiosa, o qual é transmitido ao longo do tempo. Marco Pallis considerou este segundo aspecto da tradição como “uma comunicação efectiva de princípios com origem supra humana (…) através do recurso a formas que terão surgido pela aplicação desses princípios a necessidades contingentes.”
[…]
A arte tradicional é inspirada pelo Divino. Não é, assim, “auto-expressão”, no sentido corrente do termo. A arte tradicional é anónima. Isto não quer dizer que desconhecemos os nomes dos artistas cujo trabalho consideramos inspirado e tradicional, mas que os próprios artistas não reclamariam “direitos” sobre o trabalho. Pelo contrário, era dito que eles estavam na “posse da sua arte”, no sentido de se encontrarem possuídos ou presididos pela arte. Segundo Coomaraswamy, “a posse de qualquer arte é uma participação. Adicionalmente, a posse da arte é uma vocação e uma responsabilidade; não ter uma vocação é não ter lugar na ordem social ou ser inferior ao homem.”
Refere Titus Burckhardt, islamólogo, comentador de arte e editor do Book of Kells, que, em pleno contraste com este sentido de anonimato,
grande parte do critério de estética do estudo moderno da arte deriva da Grécia clássica e da arte pós-medieval. Apesar de todos os seus desenvolvimentos ao longo do tempo, este sempre considerou o indivíduo como o verdadeiro criador de arte. Deste ponto de vista, um trabalho é “artístico” na medida em que mostre a marca de uma individualidade.
No estudo moderno da arte, como comenta Coomaraswamy, “ficamos perplexos com a possibilidade de substituir o conhecimento da arte por um conhecimento de biografias.”
[…]
(…) Schuon comenta que a arte tradicional está essencialmente preocupada com uma expressão daquilo que está para além do tempo, ao invés de com a expressão de um determinado “período”: “Uma arte que não expresse o imutável e que não pretenda ser imutável não é uma arte sagrada.” Isto não implica negar o génio étnico. Afirma Schuon que “um estilo exprime a espiritualidade e o génio étnico, e estes dois factores não podem ser improvisados.”
A partir da Renascença, e do denominado “iluminismo” que daí adveio, surgiu a concepção humanista da arte com a sua “mania” pela novidade, a qual seria mais tarde renomeada de “originalidade.” Nos mundos tradicionais, estar situado no espaço e no tempo é estar situado numa cosmologia e numa escatologia, respectivamente. A estação e o tempo são simbolizados pelo centro e pela origem, respectivamente, e é para estes que a arte tradicional aponta. Assim, a arte tradicional guia-nos para um crescente sentido de unidade. A “originalidade” moderna, por outro lado, é uma fuga para uma cada vez mais redutora individualidade que apenas pode acabar no absurdo e no bizarro, no anormal e no monstruoso, e, por fim, no surrealismo. Para Oldmeadow, a “libertação da Renascença” acabou no grotesco trabalho de um Dali.”
Aqui podemos admitir que, tal como o fez St. Agostinho, “algumas pessoas gostam de deformidades.” Mas a beleza da arte sagrada não depende do nosso reconhecimento. A “arte”, de acordo com a tradição hindu, “é expressão tornada forma pela beleza ideal (rasa).” Para Platão, “nada torna algo belo excepto a presença e a participação da Beleza, qualquer que seja a forma obtida (…) Através da Beleza todas as coisas se tornam belas.” De acordo com a tradição, o profeta Maomé terá declarado que “Deus é belo e ama a beleza.” Adicionalmente, como indica S. Tomás de Aquino, “a Beleza está relacionada com a faculdade cognitiva.” De modo semelhante, o monge e pintor chinês Tao-chi refere que, “as obras dos mestres antigos são instrumentos de conhecimento.” A arte tradicional participa no Ideal supra-formal de Beleza. Não somos nós que julgamos a arte, é ela que nos julga a nós.
[…]
Numa análise final, a arte Tradicional pode ser assim resumida: Deus, ao criar o Universo, é o Artista Divino. O ser humano é feito à imagem de Deus. Assim, tudo o que fazemos é um acto de criação e uma obra de arte. A arte Divina é a criação do humano; a arte do humano é, como uma imagem reflexa, a “criação” ou o reconhecimento do Divino. Este é o propósito e o fim da humanidade. Toda a arte é estritamente uma ciência e um ofício. Na sua forma mais elevada é a ciência e o ofício do Belo, o Ideal ou princípio de toda a beleza. O seu propósito é sempre o retorno do humano à Origem através de contemplação, meditação e acção, que encontram a sua perfeição na participação.
Eye of the Heart - Nº 4

Editorial
The Iconography of Dürer’s “Knots” and Leonardo’s “Concatenations” - Ananda K. Coomaraswamy
The Gong: Harmony in the religion of Java - Rebecca Miatke
The Metaphysics of Änandatäëòava - K. S. Kannan
Homer, Poet of Maya - Charles Upton
The Garden of the Heart - Mihnea Capruta
This is My Body: Symbolism in bread & bread-making - Phillip Serradell
The Primordial in the symbols and theology of Baptism - Graeme Castleman
domingo, 15 de novembro de 2009
O essencial do fundamental

René Guénon é um dos mais proeminentes fundadores da escola de pensamento perenialista/tradicionalista e foi um pioneiro ao providenciar não só uma crítica devastadora à modernidade, profundamente hipnotizada pela ilusão dos dogmas do progresso e da evolução, mas sobretudo, e talvez de muito maior importância, as chaves intelectuais que permitem ao Ocidente recuperar a riqueza espiritual inerente a qualquer civilização humana normal. Para tal, este colosso intelectual do nosso tempo recorreu às doutrinas tradicionais do Oriente para expor, à luz de uma construção argumentativa não mais complexa – e, poder-se-ia mesmo dizer, muito mais clara – do que qualquer sistema filosófico moderno, e demonstrando um talento natural que parecia extinto, aquela verdadeira e pura metafísica que parecia adormecida no Ocidente.
Depois de traduzida para o inglês e de publicada a obra completa deste prodigioso autor, deparamo-nos agora com o The Essential René Guénon: Metaphysics, Traiditon, and the Crisis of Modernity, que retém o que de essencial está contido em todas as suas obras sobre metafísica, sobre a Tradição e sobre a crise do mundo moderno. John Herlihy, editor desta recém-publicada (2009) súmula da obra completa de René Guénon, estruturou e organizou a mesma em quatro partes:
Parte 1 – O mundo moderno: Guénon declara o problema do mundo moderno em termos inequívocos, afirmando que a mentalidade moderna vive apenas para aquilo "que em civilizações anteriores não tinha qualquer uso". A crise sofrida pela civilização Ocidental reside na sua incapacidade "de reconhecer os mais elevados princípios de ordem metafísica". Consequentemente, baseia a procura da realidade numa "negação de princípios" que conduz a uma era de escuridão que precede o fim do mundo actual. Isto é, na sua essência, a "verdadeira natureza do mundo moderno";
Parte 2 – O mundo metafísico: a metafísica verdadeira representa o conhecimento espiritual de uma ordem superior, aquele que Guénon considerava o mais primordial e completo corpo de conhecimento possuído pela raça humana. Para além do conhecimento puramente racional da ciência reside o conhecimento dos princípios universais, apreensível pelo intelecto puro, o qual conduz a uma "verdadeira percepção dos estado supra-individuais do ser". Esse é o "verdadeiro propósito da metafísica";
Parte 3 – O mundo hindu: A totalidade da tradição Hindu está fundada nos Veda, uma escritura onde figura o conhecimento tradicional na sua forma mais essencial. Uma vez que a sua origem é considerada como "não-humana", as escrituras Védicas exsudam uma qualidade intemporal e imutável e transportam conhecimento metafísico que possui o carácter da certeza absoluta. No mundo hindu, conhecer e ser são dois aspectos da mesma realidade; a teoria tem o seu lugar, desde que acompanhada por uma realização correspondente;
Parte 4 – O mundo tradicional: O mundo tradicional compreende muitas formas e disciplinas que se baseiam numa tradição primordial como a fonte primária de todas as formas tradicionais. Estas tradições autênticas providenciam os meios efectivos para se chegar a um destino inesperado, nomeadamente o conhecimento dos princípios universais que conduzem à realização espiritual. A erudita visão compenetrante de Guénon sobre um vasto leque de formas tradicionais expõe, clara mas profundamente, muitos caminhos que sempre conduzem a uma e à mesma verdade no coração da filosofia perene.
Os conteúdos desta obra que retém o fundamental do pensamento perenialista/tradicionalista são:
LIST OF ILUSTRATIONS
PREFACE by John Herlihy
INTRODUCTION by Martin Lings
Part One: The Modern World
1. The Dark Age
2. Sacred and Profane Science
3. Individualism
4. A Material Civilization
5. Introduction to Reign of Quantity
6. Quality and Quantity
7. The Postulates of Rationalism
8. The End of the World
9. The Spirit of India
10. East and West
11. Civilization and Progress
Part Two: The Metaphysical World
1. Eastern Metaphysics
2. What is Meant by Tradition
3. Essential Characteristics of Metaphysics
4. Metaphysical Realization
5. Dharma
6. Sanatana Dharma
7. Some Remarks on the Doctrine of Cosmic Cycles
8. Foundation of the Theory of the Multiple States
9. The Realization of the Being through Knowledge
Part Three: The Hindu World
1. On the Exact Meaning of the Word 'Hindu"
2. Perpetuity of the Veda
3. The Law of Manu
4. Principles Governing the Institution of Caste
5. Yoga
6. General Remarks on the Vedanta
7. The Vital Center of the Human Being: Seat of Brahma
8. The Degrees of Individual Manifestation
9. Buddhi or the Higher Intellect
10. Final Deliverance
Part Four: The Traditional World
1. Kabbalah
2. Islamic Esoterism
3. At-Tawhid
4. Taoism and Confucianism
5. Rites and Symbols
6. The Symbolism of Weaving
7. The Language of the Birds
8. The Sword of Islam
9. The Heart and the Cave
10. Symbolism of the Dome
Conclusion to Introduction to the Study of the Hindu Doctrines
The Works of René Guénon
Biographical Notes
Index
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
Meditações de viagem
quarta-feira, 28 de outubro de 2009
Conhecereis a Verdade
Conhecereis a Verdade e a Verdade vos tornará livres (Jo 8,32)
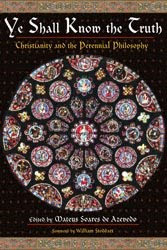
É este o mote orientador da singular selecção e edição de textos realizada pelo nosso bom amigo Mateus Soares de Azevedo na publicação Ye Shall Know The Truth: Christianity and The Perennial Philosophy. Fazemos também nossas as palavras encontradas por alguns proeminentes tradicionalistas para descrever esta criteriosa e significativa compilação de artigos sobre o cristianismo e a filosofia perene:
"Santo Agostinho disse: 'Aquilo que hoje se chama de religião Cristã também existiu entre os Antigos, e não esteve ausente da humanidade desde os tempos da sua origem até ao tempo em que Cristo se tornou carne. A verdadeira religião, a qual já existia, passou a ser chamada de Cristianismo'. É mérito desta extraordinária antologia que, extraída das melhores fontes, nos possamos relembrar que o Cristianismo e a Philosophia Perennis (Filosofia Perene) falam numa mesma voz, a voz do Eterno." (Jean-Baptiste Aymard, co-autor de Frithjof Schuon: Life and Teachings)
"Esta compilação de ensaios aponta para o coração esotérico e gnóstico dos ensinamentos Cristãos, enquanto realça as formas tradicional, escritural e litúrgica através das quais este coração animou a Igreja e os seus fiéis. Este volume é por conseguinte um muito-necessário antídoto para a miopia fundamentalista e para a imoderação modernista: este volume rompe concepções exteriores e convencionais do Cristianismo enquanto sustenta a profundidade espiritual e a integridade sagrada da dádiva de Cristo ao mundo." (Patrick Laude, Georgetown University, autor de Singing the Way: Insights in Poetry and Spiritual Transformation)
"Relativamente à importância contemporânea sobre a qual o livro oferece algumas perspectivas encorajadoras está a questão das relações entre o Cristianismo e o Islão. Também aqui o editor exumou contribuições que, muitas vezes de formas inesperadas, projectam uma luz significativa." (William Stoddart, extracto do preâmbulo da obra)
"Não conheço antologia comparável que trate especificamente a tradição Cristã. A selecção de contribuições individuais para o volume é de primeira qualidade." (Alberto Martín, autor de Por el Camino de Santiago: reflexiones sobre filosofia, arte e espiritualidade)
Conteúdo da antologia:
Forward – William Stoddart
Introduction – Mateus Soares de Azevedo
I. Foundations
1. The Question of Evangelicalism – Frithjof Schuon
2. The Veil of the Temple: A Study of Christian Initiation – Marco Pallis
3. Mysticism – William Stoddart
II. Spirituality
4. The Power of the Name: The Jesus Prayer in Orthodox Spirituality – Bishop Kallistos Ware
5. The Rosary as Spiritual Way – Jean Hani
6. The Virgin – James S. Cutsinger
III. Sacred Art
7. The Royal Door – Titus Burckhardt
8. Shakespeare in the Light of Sacred Art – Martin Lings
9. Theology of the Icon – Jean Biès
10. Are the Crafts an Anachronism? – Brian Keeble
IV. Comparative Religion
11. Paths that Lead to the Same Summit – Ananda K. Coomaraswamy
12. A Christian Approach to the Non-Christian Religions: All Truth is of the Holy Spirit – Bernard Kelly
13. The Christians of Moorish Spain – Duncan Townson
14. The Bishop of Tripoli – Duke Alberto Denti di Pirajno
15. The Monk and the Caliph – Angus Macnab
V. The Universality of the Christian Mystics
16. Saint Bernard – René Guénon
17. Characteristics of Voluntaristic Mysticism – Frithjof Schuon
18. Sages and Saints of Our Epoch in the Light of the Perennial Philosophy – Mateus Soares de Azevedo
VI. The Modern Deviation
19. The Abolition of Man – C. S. Lewis
20. The End of Tradition – Rama P. Coomaraswamy
21. The Dragon that Swallowed St. George – Whitall N. Perry
22. Christendom and Conservatism – Titus Burckhardt
Acknowledgments
Notes on Contributors
Biographical Notes
Index
sábado, 24 de outubro de 2009
Divulgação: Dança Tradicional

Parvati inventou a graciosa dança «lasya» e o seu esposo Shiva-Nâtarâja, o rei da dança, rivalizou com ela com o modo viril «tandava». O espectáculo encantou todos os deuses, os quais pediram a Brahma, o Criador, que revelasse alguns elementos deste conhecimento entre os homens.
Brahma ensinou-os ao sábio Bharata, que os codificou num tratado em sanskrito: o Nâtya-Shâstra, há cerca de 2000 anos. Refere-se, geralmente, que terá sido escrito entre o séc. II a. C. e o séc. II d. C. O sábio Bharata é, sem dúvida, um ser mítico: o seu nome, segundo os historiadores modernos, será composto pela primeira sílaba das palavras «bhâva», «râga», e «tâla», que significam: emoção, melodia e ritmo, as três qualidades essenciais da dança na Índia.
O Nâtya-Shâstra, considerado como o quinto Veda, é uma obra enciclopédica que reúne todos os conhecimentos relativos à dança, ao canto, à música, à poética, à recitação e à arte do teatro.
Diferentes regiões da Índia desenvolveram o seu próprio estilo clássico. O Bharata Natyam, no sul, é um dos mais antigos. Tendo permanecido fiel às regras enunciadas no Nâtya-Shâstra, dividiu-se em vários ramos, tais como a célebre escola de Pandanallur (aldeia situada perto de Tanjore, Tamil Nadu). Saído desta escola, o mestre Natyakalanidi Meenakshi Sundaram Pillai foi uma figura essencial na renovação desta dança nos anos 40. Ele é descendente dosquatro irmãos Tanjore (Quarteto Tanjore Brothers) que fixaram a forma do recital de Bharata Natyam tal como o podemos ver hoje em dia, do Alaripu ao Tillana. Entre os seus discípulos, é de referir Ram Gopal, que se destacou pela sua carreira internacional, bem como o casal U.S.Krishna Rao e Chandra Bhaga Devi, célebres pelos seus escritos e composições."
Retirado de Tarikavalli.com
